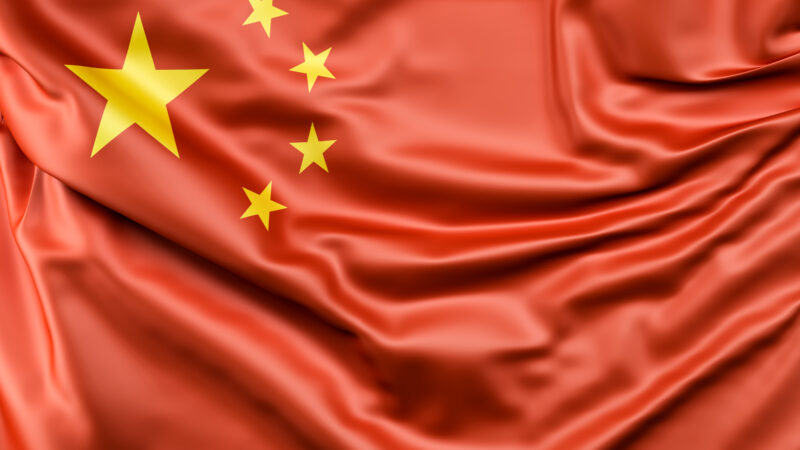Na hora da crise
Por Tiago Nasser Appel
Publicado originalmente no site Carta Maior de 19/08/2015. Acesse o link aqui.
O livro, “História, Estratégia e Desenvolvimento: para uma geopolítica do capitalismo”, do cientista político José Luís Fiori, cai como uma luva no meio da crise política e econômica vivida pela sociedade brasileira, nesta segunda década do século XXI. Mais do que isto, o livro de Fiori: reanima o mundo das ideias e da esquerda brasileira numa época em que esta se encontra tomada por um verdadeiro marasmo intelectual, combalida pelo estadismo tímido do seu principal representante no poder e amedrontada pelo ressurgimento do fascismo.
Mas Fiori é hoje muito mais do que um representante da intelectualidade brasileira de esquerda, e não digo isso para desmerecer os esforços de um sem-número de críticos que escrevem regularmente nos (não muitos) periódicos de esquerda que desafiam a mediocridade atual do jornalismo brasileiro. Digo isso porque acredito que o pensador gaúcho desenvolveu nas últimas duas décadas – e nesse sentido História, Estratégia e Desenvolvimento é apenas a fotografia atual de uma pesquisa em curso que remonta à década de 1980 – uma verdadeira teoria da história, mesmo que o próprio Fiori, sempre comedido e despretensioso, se recuse em concordar.
Já peço perdão antecipada aos historiadores e filósofos da ciência pelo uso livre da expressão “teoria da história”. Com ela queremos dizer que Fiori – na veia de mestres como Marx, Weber, Tocqueville e, mais recentemente, Wallerstein e Michael Mann – desenvolveu uma meta-narrativa própria para a interpretação da história. Uma meta-narrativa é, literalmente, uma narrativa contida além da própria narrativa que a originou. A teoria marxista da luta de classes, por exemplo, foi escrita com base em observações das disputas políticas pelo excedente socioeconômico produzido pelas sociedades industriais nonocentistas, disputas estas em que figuravam duas classes centrais: a burguesia e o proletariado. Mas a narrativa da luta de classes foi estendida aos séculos precedentes porque, como diz um amigo meu, não se explica o século XIX a partir do século XIX. Isto é, se quisermos fazer mais do que análise de conjuntura – novamente, sem desmerecer a análise de conjuntura – precisamos identificar padrões e recorrências que nos possam ser úteis para explicar e descortinar o maior número possível de processos históricos. Neste sentido, meta-narrativas inovadoras são aquelas que, ao identificar novos padrões na história, isto é, ao nos oferecer novos instrumentos para reler a história, nos permitem extrair lições inéditas para o presente.
A teoria do Poder Global de Fiori é, a meu ver, uma das meta-narrativas de vanguarda da atualidade. Como todas as outras, ela também se baseia numa narrativa original que, aliás, ainda preenche a maior parte das páginas dos escritos do autor: o surgimento e desenvolvimento do sistema interestatal capitalista. Em sua narrativa do funcionamento do sistema, Fiori identificou as seguintes recorrências gerais (2014: 36-45): (1) nenhum caso de desenvolvimento econômico nacional bem-sucedido pode ser explicado a partir de fatores exclusivamente endógenos, no sentido de que o desenvolvimento sempre obedeceu a estratégias desenhadas em resposta a grandes desafios sistêmicos, sobretudo geopolíticos; (2) por conseguinte, todos os países “vitoriosos” se desenvolveram dentro de tabuleiros geopolíticos altamente competitivos e, por isso, compartilharam um sentimento constante de cerco e ameaça externa, ameaça esta que ocupou lugar central no desenho dos objetivos estratégicos de suas políticas de desenvolvimento e industrialização; (3) mesmo o “sucesso” dos pequenos países desenvolvidos, que enriqueceram sem tornar-se grandes potências, não pode ser explicado sem que se leve em conta a sua posição territorial decisiva dentro da competição das grandes potências, posição esta que lhes permitiu abdicar de sua autonomia em matéria de defesa e política externa em troca do acesso privilegiado aos mercados e capitais da potência protetora; (4) todos os países que se transformaram em grandes potências capitalistas enfrentaram, no momento de sua arrancada, rebeliões sociais, “revoluções burguesas” ou guerras civis que estiveram invariavelmente associadas à ameaça de invasão externa; (5) neste sentido, essas rebeliões/revoluções foram cruciais para a criação de um núcleo estratégico unido e coeso dentro do próprio Estado, núcleo este que conseguiu sustentar objetivos estratégicos ao longo do tempo e apesar de eventuais mudanças de governo ou regime político; (6) todas as potências foram expansivas desde o momento da consolidação de seus centros de poder internos e utilizaram suas economias nacionais como instrumento de poder a serviço de suas estratégias imperialistas, no sentido de que a liderança do capitalismo sempre esteve nas mãos dos capitais privados e das economias que, apoiados no poder internacional de seus Estados, conseguiram operar na contramão das leis de mercado; (7) as grandes potências vencedoras sempre impuseram as próprias moedas como moedas de referência, que nunca foram escolha dos mercados e sim subproduto da guerra e da vitória da superpotência; (8) os títulos da dívida pública das grandes potências sempre tiveram maior credibilidade do que os títulos dos outros Estados não porque elas seguiram os preceitos liberais da responsabilidade fiscal – elas desrespeitaram sistematicamente os preceitos da ortodoxia econômica em nome da luta por mais poder –, mas porque a expansão contínua dos seus territórios econômicos supranacionais e zonas de influência, juntamente com a imposição da sua própria moeda, lhes deu condições infinitamente superiores de arcar com seus “compromissos” financeiros.
As linhas acima narram uma clara antecedência temporal e lógica do mundo do poder e da conquista sobre o mundo dos mercados e da economia. O privilégio dado à guerra também fez Fiori encontrar as origens do sistema interestatal capitalista em “explosões expansivas” no tabuleiro geopolítico Europeu, entre aproximadamente 1150 e 1650. Neste período as guerras europeias transformaram-se numa atividade contínua cuja enorme pressão competitiva tornou imperiosa a necessidade de se obter mais receita e recursos materiais e humanos, até o momento em que a repetição permanente desse estímulo autoritário à produção de excedente socioeconômico marcou uma ruptura original na Europa, o nascimento das primeiras Economias-Nacionais. Com seu nascimento, a relação simbiótica entre o conflito e o desenvolvimento cresceu exponencialmente à medida que as necessidades criadas pela guerra excederam a capacidade de tributação e levaram à criação de sistemas nacionais de crédito. Estes sistemas, baseados em última instância na dívida pública dos Estados nacionais, foram desde sempre e são até hoje o principal espaço de acumulação de capital, de acumulação do dinheiro pelo dinheiro.
Esses insights apontam para uma clara inovação teórica frente aos clássicos estudos da relação entre a guerra e o capitalismo. Autores como Tilly, Parker, Kennedy e McNeill já mostraram há tempo como a guerra e a necessidade de receita forçaram as nascentes economias europeias a se burocratizar e modernizar, e como esse processo criou a infraestrutura social que possibilitou a ascensão do capitalismo. No entanto, eles não criaram uma meta-narrativa tão poderosa (tão geral) porque aceitaram implicitamente que a maturidade do capitalismo assinalava uma mudança qualitativa radical na relação entre conflito e desenvolvimento, como se o mundo do capital tivesse se autonomizado do mundo do poder.
Já a narrativa de Fiori nos convence de que o desenvolvimento dos mercados privados de crédito e dos capitais nacionais não pode ser desvinculado do movimento de expansão e, em última instância, internacionalização dos Estados. Esta dependência do capitalismo para com o mundo do poder não é apenas evidenciada – como aceitam muitos economistas – pelos inúmeros exemplos de crises econômicas em que o “capitalismo” foi resgatado pela intervenção do Estado, mas principalmente pelo caráter necessariamente nacional do capital.
Em História, Estratégia e Desenvolvimento, Fiori escancara a ingenuidade daqueles – tanto marxistas como liberais – que trabalham com categorias abstratas de capital, como se algum capital pudesse ser acumulado fora do território econômico criado e sustentado pelo poder dos Estados. Nesse sentido, a suposta internacionalização do capitalismo que presenciamos nos últimos séculos é, no fundo, resultado da progressiva ampliação dos territórios econômicos supranacionais de determinadas potências ganhadoras e, por isso, é sempre – paradoxalmente – a internacionalização de determinado capital, com nome, sobrenome e nacionalidade particulares, e denominado, igualmente, em uma moeda particular, nacional, cuja internacionalização acompanha pari passu a expansão do poder do Estado soberano emissor.
É por isso que neste sistema é logicamente impossível que um país se desenvolva sem conquistar posições monopólicas que são, por definição, escassas e desiguais (são parte do território econômico de determinada potência). Diz Fiori (p. 28): “não há como uma economia nacional se expandir simplesmente por meio do jogo das trocas, nem há como uma economia capitalista se desenvolver de forma ampliada e acelerada sem que ela esteja associada a um Estado com projeto de acumulação de poder e de transformação ou modificação da ordem internacional estabelecida”. E, como a história nos mostrou várias vezes, é claro que as potências que já ganharam vão lutar com unhas e dentes para proteger as suas posições monopólicas das potências ascendentes: o próprio discurso liberal – sempre patrocinado pelas potências ganhadoras – de que os países podem crescer e se desenvolver pela “via dos mercados”, sem um projeto ascendente, sempre foi um poderoso instrumento ideológico para manter a periferia do sistema no “andar de baixo”, para sorver de antemão toda a energia criativa de potenciais desafiadores da ordem estabelecida e fazê-los aceitar a sua posição subalterna no sistema internacional de poder.
Mas, perguntariam os mais críticos, se o desenvolvimento capitalista é inteiramente um subproduto da competição por poder entre Estados Nacionais, por que os episódios anteriores e extra-europeus de intensa competição geopolítica não deram origem a esta ruptura original? A hipótese de Fiori é que, embora certamente tenha havido outros momentos na história de “explosões expansivas” de poder e riqueza, elas não produziram a ruptura para a “modernidade” porque elas foram mais cedo ou mais tarde abortadas por unificações territoriais do tipo imperial (Império Romano, Chinês, Persa, Otomano, Mugal, etc.) que fizeram cessar a competição geopolítica e, portanto, a energia que faz o sistema dar saltos qualitativos.
É exatamente aqui, friso eu, que encontramos o Fiori mais original, o Fiori que produz teoria da história. A tentativa de destrinchar esse “sistema de unidades de poder competitivas” necessariamente o levou, cronologicamente falando, para muito antes do capitalismo. Para a meta-narrativa ser geral e consistente, era preciso explicar quando esse sistema original de competição por poder, esse prime mover da história, produzia as rupturas e quando ele não as produzia. A tentativa de construir essa teoria geral levou o gaúcho a desenvolver o que ele mesmo chama de uma metafísica do poder, cujas características ele mais uma vez resume no prefácio do História, Estratégia e Desenvolvimento.
Num esforço teórico interdisciplinar que empresta conceitos da física, da antropologia e da biologia, Fiori desenvolve uma teoria do poder que já seria suficiente para colocá-lo ao lado dos grandes mestres aludidos no início dessa resenha. Tal como o conceito de capital de Marx, que parece acometer-se de uma energia irresistível que o obriga a se valorizar para continuar existindo, o “poder”, em Fiori (p. 18-20), é fluxo, é energia, é ação e movimento. Tal como o capital em Marx, o poder é uma relação que se constitui e define pela disputa e luta contínua pelo próprio poder: ele é, portanto, (1) limitado – se fosse absoluto, não haveria competição e, portanto, ele não existiria; (2) relativo – se algum vértice ganha poder, outro necessariamente perde; (3) heteroestático – qualquer variação de poder provoca sempre uma reação imediata das partes desfavorecidas, que buscam recompor o “equilíbrio” inicial de poder; (4) expansivo e “triangular” – se as relações de poder fossem binárias e fechadas sobre si mesmas, transformar-se-iam num jogo de soma zero, por isso a fronteira (o “terceiro” vértice) é necessária para exercer uma pressão competitiva a um sistema que, de outro modo, entraria em equilíbrio e, portanto, em entropia.
Vale a pena dedicar algumas linhas a este quarto ponto, pois os conceitos da termodinâmica são essenciais para o entendimento da metafísica do poder de Fiori. A segunda lei da termodinâmica diz que a quantidade de entropia (desordem) de um sistema isolado tende a aumentar com o tempo até alcançar o equilíbrio térmico, onde a “desordem” é máxima porque não há mais complexidade, onde há apenas um todo homogêneo. O conceito de desordem parece aqui contra intuitivo, mas um exemplo simples irá clareá-lo.
Se despejarmos a água de uma chaleira aquecida numa panela com água fria, a maior energia potencial da água mais quente irá imediatamente se distribuir entre as moléculas da água mais fria, até o equilíbrio termodinâmico ser alcançado. Quando isto acontece, perdemos complexidade (ordem) porque “perdemos” energia para sempre, isto é, o calor, após distribuído, não está mais disponível para realizar trabalho. A entropia, definida como calor irrecuperável, aumentou.
A analogia com o mundo do poder é direta. Enquanto na física o grau de desorganização de um sistema tende a aumentar caso ele não receba estímulos externos contrários, no mundo do poder as unidades políticas tendem a perder dinamismo quando cessa a pressão externa. O Poder, assim, é uma energia que se desenvolve no desequilíbrio, uma energia que desafia a força termodinâmica que age, quase que instantaneamente, para minimizar ou mesmo dissipar os desequilíbrios. Portanto, se nos últimos 1000 anos o sistema que se originou na Europa manteve-se em movimento, sem grandes retrocessos ou estagnações, é porque conseguiu manter-se suficientemente competitivo para contrabalançar esta tendência natural, “física”, ao equilíbrio.
Mas engana-se quem acredita que a teoria de Fiori não tem valor heurístico fora da competição entre Estados Nacionais. Ela nos ajuda, por exemplo, a explicar o surgimento dos primeiros Estados, que os antropólogos políticos admitem ter sido resultado direto do aumento da competição territorial entre grupos humanos que foram se sedentarizando após a revolução Neolítica (adoção da agricultura). Mas, principalmente, a teoria de Fiori nos mostra como o conflito entre grupos humanos, uma vez iniciado, cria os seus próprios mecanismos de retroalimentação, pois gera dilemas de segurança em que o próprio poder passa a ser a “moeda de troca” da disputa. Isto é, embora a competição e a guerra se originem inicialmente de um estado fundamental de escassez, a competição e, em última instância, a guerra se alimentam da desconfiança e do impulso por poder que elas próprias criam. Quando o “outro” é considerado um potencial inimigo, sua própria existência suscita ameaça, pois “ele” pode um dia atacar. Por isso, devem-se tomar precauções e aumentar o próprio poder. O problema é que isso sempre será interpretado como uma ação ofensiva pela outra parte, gerando um clássico dilema de segurança do qual é impossível escapar.
Assim, o conflito gera uma acumulação de poder permanente que em determinadas circunstâncias permite grandes rupturas qualitativas, como o surgimento de novas espécies, se recorrermos à teoria evolucionária e à sociobiologia, de novos tipos de agrupamentos humanos, dos Estados e, mais recentemente, do capitalismo. Mas mesmo no capitalismo, e não poderia ser diferente dado o ponto de partida de Fiori, o poder, por natureza desigual, assimétrico e relativo, continua sendo a moeda universal mediante a qual todos os outros objetivos (e. g., riqueza) podem ser conquistados.
Embora a obra de Fiori não tenha caráter explicitamente normativo, não poderíamos terminar essa resenha sem rascunhar como a teoria da história que ele desenvolve pode nos ajudar a reavivar o debate sobre o desenvolvimento. Desde 2003 o o governo brasileiro vem sendo conduzido por uma coalizão de forças que conseguiu patrocinar um tímido “capitalismo de Estado” e uma política externa relativamente autônoma. Mas esta coalizão enfraqueceu-se sobremaneira a partir do momento em que Brasil deixou de contar a seu favor com o boom das commodities da primeira década do século, e agora corre o risco de se desintegrar com a debandada do congresso e os ataques diários da mídia conservadora e ultr-liberal.
Esses ataques, no entanto, apenas revelam a cada vez mais importante posição geopolítica do Brasil no novo mapa mundial que está se desenhando. Iniciativas como a Organização de Cooperação de Xangai e os Bancos de Desenvolvimento dos BRICS apontam para um mundo cada vez mais bipolar, reminiscente da Guerra Fria, e prenhe de oportunidades de alianças estratégicas e de desenvolvimento. Este mundo contará com a presença relativa cada vez menor da Europa – fustigada pela sua crise interna e pelo malogro absoluto de suas guerras civilizacionais na África e no Oriente Médio – e verá regiões como o Pacífico e a América do Sul cada vez mais disputadas pelos dois blocos principais de poder que caracterizarão as próximas décadas: um liderado pelos Estados Unidos e outro liderado pela China.
A América do Sul e o Brasil, em particular, terão, portanto, que decidir se perseguem uma estratégia autônoma ou se aderem às zonas de influência de uma das duas grandes potências. Mas contra toda ideologia, a história nos mostra que não é principalmente a “escolha” por uma potência particular o que promove o desenvolvimento, mas sim a capacidade de se articular uma estratégia nacional que aproveite as oportunidades e saiba exigir as contrapartidas que os sucessivos quadros geopolíticos oferecem, em menor ou maior grau.