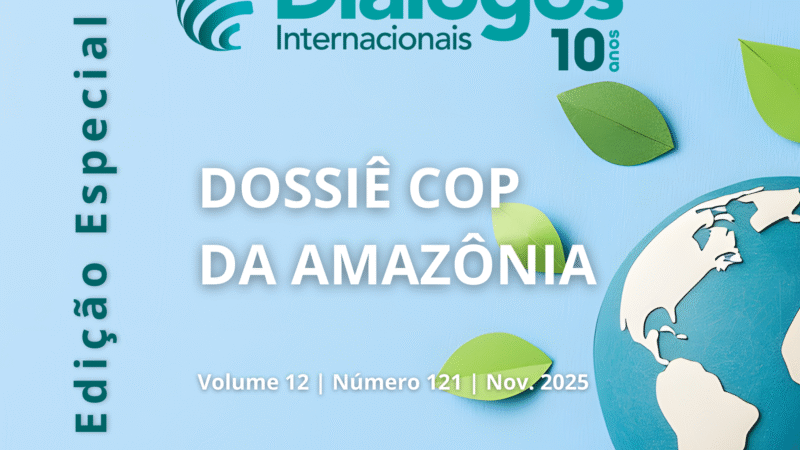“Comunidade e Democracia” à luz da Política Internacional: apontamentos sobre a obra de Robert Putnam
Volume 11 | Número 114 | Dez. 2024
Eduardo Brasil de Mattos
- Introdução
Em seu clássico livro “Designing social inquiry”, King, Keohane e Verba (1994) citam o trabalho de Robert Putnam em “Comunidade e Democracia: a experiência da Itália moderna” (2006) como um exemplo de pesquisa de alto nível que combina as tradições qualitativa e quantitativa no campo da Ciência Política. A leitura de Putnam (2006) confirma a afirmação: o autor e sua equipe moveram um esforço louvável ao longo de anos para desenvolver a pesquisa sobre o desempenho institucional na Itália em diferentes frentes, reunindo evidências empíricas a partir de entrevistas e da análise de materiais estatísticos. É particularmente interessante que, para além de destacar a combinação das duas tradições no âmbito da pesquisa, Putnam (2006, p. 27) detalha o âmbito multidisciplinar de seu empreendimento, associando diferentes métodos a diferentes disciplinas como a História e a Antropologia.
A pesquisa empreendida por Putnam e sua equipe é ao mesmo tempo detalhista e extensa. Existe, no entanto, uma notória lacuna no que se refere aos contextos políticos internacionais nos quais a Itália esteve inserida ao longo do vasto período analisado. Ainda que tal ausência seja justificável, considerando que não se pode levar em consideração todas as variáveis possíveis dentro de uma pesquisa acadêmica, em determinados momentos essa característica do trabalho de Putnam leva a conclusões questionáveis. O objetivo deste trabalho é analisar o livro “Comunidade e Democracia: a experiência da Itália moderna” de forma crítica, levando em consideração questões de Política Internacional que o autor desconsidera ao longo da obra, mas que consideramos de primeira importância para a compreensão dos fenômenos políticos domésticos descritos por Putnam.
A primeira seção deste trabalho trará uma breve apresentação do livro de Putnam, salientando as principais teses do autor e o percurso da pesquisa realizada. A análise das duas seções posteriores será centrada em dois momentos históricos específicos: em um primeiro momento, será analisada como a conjuntura internacional pós-Congresso de Viena (1815) impactou a realidade política italiana – e como a abordagem adotada por Putnam (2006) desconsidera essa conjuntura, o que enfraquece sua argumentação acerca das tradições cívicas no país. Já no segundo momento, buscaremos apontar como as dinâmicas políticas da Guerra Fria são relevantes para se considerar a questão da “despolarização ideológica” na política interna italiana observada pelo autor. A escolha desses dois momentos justifica-se pela relevância de ambos para a formação do sistema internacional contemporâneo e pela possibilidade que a análise desses fenômenos políticos internacionais abre para a crítica a pontos nevrálgicos da pesquisa empreendida por Putnam e sua equipe.
Em sua obra, Robert Putnam objetiva compreender o desempenho das instituições democráticas, partindo do caso da reforma de governança ocorrida na Itália da década de 1970 (Putnam, 2006). A criação simultânea de 15 novos governos regionais, uma novidade histórica em um país que era até então marcado pela centralização, permitiu ao autor desenvolver um estudo comparativo na tentativa de compreender quais são as condições que permitem um melhor funcionamento das instituições democráticas (Putnam, 2006). O caso italiano era ainda mais paradigmático considerando a facilmente observável disparidade entre um Norte industrializado e um Sul rural e empobrecido.
2. “Comunidade e Democracia…”: uma breve apresentação
Em termos de epistemologia, o trabalho de Putnam inscreve-se claramente na chamada “tradição científica”, utilizando a terminologia apresentada por autores como Hollis e Smith (1990): o autor torna particularmente clara sua intenção de aproximar a pesquisa social daquela realizada pelas ciências naturais quando compara seu estudo do desenvolvimento das instituições italianas ao desenvolvimento de plantas (Putnam, 2006, p. 23). Metodologicamente falando, Putnam e sua equipe empregam uma ampla gama de técnicas qualitativas e quantitativas em busca de informações especializadas e abrangentes sobre as questões políticas em diferentes regiões italianas (Putnam, 2006, p. 28).
A partir dos dados coletados ao longo de anos, Putnam e sua equipe elaboram um índice de desempenho institucional que visa avaliar a eficácia dos novos governos regionais italianos a partir de indicadores que levem em consideração “a) a continuidade administrativa; b) as deliberações sobre as políticas; e c) a implementação das políticas” (Putnam, 2006, p. 79). A comparação das diferentes regiões italianas mostra um reflexo da histórica desigualdade entre Norte e Sul do país, já que o autor aponta que “os governos regionais do Norte apresentaram um melhor desempenho que os do Sul” (Putnam, 2006, p. 97).
Parte importante da justificativa de Putnam para as grandes diferenças entre o Norte e o Sul da Itália reside na ideia de que as duas regiões foram conduzidas através de caminhos políticos específicos devido a acontecimentos históricos que selaram seu destino – trata-se da ideia de “subordinação à trajetória”, que o autor traz da História Econômica (Putnam, 2006, p. 188). No caso, o funcionamento mais eficiente dos governos regionais na Itália do Norte dos anos 1970 seria fruto, em última instância, de um desenvolvimento milenar de características associativas cuja origem se situaria na formação das primeiras associações de ajuda e proteção mútua no século XII (Putnam, 2006). No Sul da Itália, por sua vez, uma sucessão histórica de dinastias autocráticas teria condenado a região a relações políticas verticais e ao clientelismo (Putnam, 2006). As análises conduzidas por Putnam apontam para uma forte relevância do “civismo” para o bom funcionamento das instituições democráticas, ainda maior que hipóteses alternativas como o desempenho econômico regional (Putnam, 2006, p. 112).
A leitura do livro de Putnam torna particularmente evidente a relação próxima entre a teoria que guia uma pesquisa e a metodologia utilizada em sua execução. O autor torna claro desde o princípio quais são os autores que orientam sua perspectiva sobre a vida cívica na Itália: teóricos clássicos da democracia e do Estado como John Stuart Mill, Thomas Hobbes e Alexis de Tocqueville (Putnam, 2006). Também é relevante destacar que a noção de virtude cívica explorada pelo autor é em grande medida oriunda de Maquiavel (Putnam, 2006, p. 100). Muitos críticos, no entanto, destacam o fato de o livro ser mais focado na questão do desempenho institucional do que no funcionamento de fato da democracia italiana (Koelble, 2003). Ainda que Putnam apresente, através da pesquisa historiográfica e da análise estatística, uma ampla análise sobre as tradições cívicas na Itália, a relação dessas tradições com um sistema democrático é turva. De fato, ao longo de sua análise historiográfica, Putnam torna claro que as tradições políticas das repúblicas comunais que existiam no Norte da península do século XII foram abaladas por ondas de autocracia ao longo dos séculos (Putnam, 2006, pp. 143-146).
3. O Congresso de Viena (1815) e as tradições cívicas italianas
O argumento de Putnam (2006) em defesa da “subordinação à trajetória” das regiões italianas, ainda que convincente, é frágil devido à dificuldade do autor em estabelecer a continuidade histórica entre a realidade da península italiana no século XII e aquela da Itália em meados do século XX. Putnam falha ao não apontar de que maneira a apropriação da vida cívica pela autocracia afetou as associações civis ao longo das diferentes ondas de governos autocráticos que dominaram a península no período. Em vez disso, o autor supõe a permanência constante da “virtude cívica” ao longo da história do Norte da Itália, independente das transformações políticas de primeira importância que ele mesmo aponta. Ainda que Putnam (2006) consiga provar a continuidade da participação cívica entre o período de 1860 a 1920 e a década de 1970, sendo respaldado por dados confiáveis, o mesmo não pode ser afirmado sobre a continuidade com as associações medievais do século XII. O argumento mais sólido que o autor apresenta nesse sentido é a menção a uma única associação do século XIX que afirmava continuar um legado milenar, caso que dificilmente pode ser generalizado.
Um exemplo do tratamento que Putnam dá à história da Itália que merece destaque é a omissão de um acontecimento histórico de primeira importância no começo do século XIX: o controle austríaco sobre a política da península italiana após o Congresso de Viena em 1815 (Beales; Biagini, 2013; Hobsbawm, 2009). A tentativa de Restauração do Antigo Regime sobre a vida política italiana levou à incorporação de regiões do Norte da península ao Império Austro-Húngaro e a submissão dos demais Estados à hegemonia austríaca (Beales; Biagini, 2013; Hobsbawm, 2009; Riall, 2004). Nesse ponto, cabe destacar o caráter autocrático dessa movimentação, que buscou apagar boa parte das reformas modernizantes promovidas pela invasão napoleônica nos anos anteriores e resultou em uma ausência de liberdades democráticas mínimas nas regiões diretamente ocupadas como a Lombardia-Vêneto, conforme apontam Beales e Biagini (2013, p. 39). Putnam (2006, p. 146) menciona que o poder da aristocracia no Norte começava a enfraquecer no século XVIII, mas falha ao mencionar esse importante retrocesso nas primeiras décadas do século XIX.
Ainda que a ausência de comentários sobre um período histórico específico possa parecer um preciosismo da crítica, é notável que Putnam opte por não mencionar justamente um momento de domínio autocrático do Norte da Itália por uma potência estrangeira. Ao longo de seu relato histórico sobre o Sul, o autor destaca essas mesmas características como sendo definidoras das relações políticas verticais e clientelistas dessa região, avessas à virtude cívica supostamente encontrada no Norte (Putnam, 2006). Tal ponto, portanto, exemplifica uma questão relevante no trabalho do autor: ao defender a tese da “subordinação à trajetória” como justificativa para tradições políticas díspares, Putnam opta por destacar momentos históricos específicos ao mesmo tempo em que diminui a importância de outros que poderiam enfraquecer sua hipótese.
4. A política da Guerra Fria e a despolarização ideológica nas regiões italianas
Ao longo do segundo capítulo, no qual Putnam apresenta as consequências da reforma que introduziu as regiões na cena político-administrativa italiana, o autor relata o fenômeno da “despolarização ideológica” (Putnam, 2006, p. 43) observado na política regional italiana. A partir de uma série de questionários com “perguntas sobre capitalismo, poder sindical, distribuição de renda, divórcio e greves no setor público” (Putnam, 2006, p. 43) voltados aos conselheiros regionais italianos, o autor e sua equipe apontam para uma “forte tendência à moderação” (Putnam, 2006, p. 43) entre os políticos de esquerda afiliados ao Partido Comunista Italiano (PCI), ao Partido Socialista Italiano (PSI) e a outros partidos de esquerda minoritários. De fato, os políticos identificados com os ideais da extrema-esquerda representavam mais de um terço dos conselheiros regionais na sondagem realizada em 1970, passando a apenas 5% em 1989 (Putnam, 2006, pp. 43-45).
Putnam atribui essa mudança no comportamento político dos representantes eleitos para cargos no governo regional à “socialização institucional” promovida por esse novo espaço político; ou seja, que os governos regionais fomentaram uma relação menos polarizada, mais tolerante e, notadamente, mais ao centro do espectro político entre os líderes regionais (Putnam, 2006, p. 51-52).
Em pouco mais de 10 anos já se faziam sentir os efeitos corretivos e moderadores do envolvimento no governo regional, e a intransigência ideológica ia cedendo o passo a uma valorização das virtudes da contemporização e da experiência técnica. (…) Após uma década de governo regional, os líderes regionais se haviam tornado menos teóricos e utópicos e menos preocupados em defender os interesses de certos grupos regionais em detrimento de outros.
(Putnam, 2006, p. 48-49)
A análise do autor, no entanto, deixa de levar em consideração as transformações políticas ocorridas no mundo ao longo do período estudado, notadamente a degradação do bloco socialista europeu e o final da Guerra Fria. Esse fenômeno atingiu particularmente a política italiana, considerando o crescente distanciamento do Partido Comunista Italiano (PCI) das diretrizes políticas propagadas pela União Soviética (Pons, 2010). De fato, o PCI foi um dos precursores da expansão do Eurocomunismo na Europa, marcando o fim de um período de forte influência soviética sobre os partidos comunistas no continente.
Teorizado como Eurocomunismo pelo líder do partido espanhol Santiago Carrillo, então auxiliando a restauração da monarquia Bourbon em Madri, ele for reproduzido à sua própria maneira pelo partido comunista na França, onde a nova doutrina tinha já adeptos. Comum a todas as variantes era a rejeição aos princípios sobre os quais a Terceira Internacional havia sido fundada, e um compromisso doravante a reformas parlamentares graduais como o caminho da Europa Ocidental para o socialismo; com a versão italiana adicionando uma declaração de lealdade à OTAN. (Anderson, 2020, p. 4, tradução nossa)
A defesa das reformas como o caminho para o socialismo e o concomitante distanciamento do ideal revolucionário levou o PCI a um processo de transformação ideológica que culminaria com sua transformação no Partido Democrático da Esquerda (Anderson, 2020; Putnam, 2006, p. 132). Tais desenvolvimentos históricos, no entanto, não são considerados na análise de Putnam, que sequer menciona as transformações políticas ocorridas no interior do PCI, limitando-se a apontar que o partido foi “rebatizado” em 1991 (Putnam, 2006, p. 132). Assim, a conclusão de que a socialização institucional foi a principal responsável pela despolarização ideológica na cena política italiana entre 1970 e 1989 é incompleta, pois desconsidera que o principal partido político da extrema-esquerda no período analisado, o PCI, passou por consideráveis transformações em suas concepções políticas nesse mesmo período, deixando enfim de se vincular a esse eixo do espectro ideológico.
Ainda que tal processo no interior do PCI possa ter sido influenciado pelas novas dinâmicas da política regional segundo o argumento de Putnam, o autor não considera que a política italiana estava inserida em um cenário político mundial complexo, e que o distanciamento das diretrizes soviéticas e o avanço do Eurocomunismo na Itália são também variáveis que possivelmente explicam a tendência à despolarização ideológica observada. A escolha metodológica de desconsiderar influências externas na política italiana, portanto, leva o autor a ignorar uma possível variável de primeira importância.
5. Conclusão
Putnam e sua equipe conduzem uma pesquisa de altíssima qualidade e, na maior parte do livro, com alto rigor científico. O tratamento que Putnam dá à História da Itália, no entanto, é um problema grave na pesquisa conduzida, considerando que toda a argumentação de Putnam é baseada numa visão estática dos desenvolvimentos históricos no que se refere à constância da “virtude cívica” entre as comunidades do Norte da Itália. Além disso, o autor expressa uma visão enviesada dessa história de forma a corroborar sua hipótese de continuidade entre as tradições políticas das repúblicas comunais da Idade Média e o comportamento político nas regiões criadas após a reforma dos anos 1970. Nesse sentido, o exemplo apresentado sobre a desconsideração da invasão napoleônica e das novas dinâmicas políticas inauguradas na península italiana após o Congresso de Viena na análise histórica do autor, é extremamente relevante.
A questão levantada sobre a política italiana na Guerra Fria também se configura como uma questão metodológica, fruto da decisão de Putnam de desconsiderar o contexto político internacional em sua análise. A decisão do autor é compreensível, considerando que o rol de variáveis possivelmente exploráveis em sua análise é extremamente amplo e que uma seleção é necessária. Ainda assim, esse ponto revela a dificuldade do autor em considerar o panorama internacional em sua análise como um todo, e as possíveis variáveis que podem influenciar o desempenho institucional e o desenvolvimento das comunidades cívicas na Itália.
Referências
ANDERSON, Perry. The antinomies of Antonio Gramsci. Londres: Verso, 2020. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=ZG_nDwAAQBAJ&pg=PT5&hl=pt-BR&source=gbs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false.
BEALES, Derek; BIAGINI, Eugenio F. The Risorgimento and the unification of Italy. Nova York: Routledge, 2013.
HOBSBAWM, Eric J. A Era das Revoluções (1789-1848). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009.
HOLLIS, Martin; SMITH, Steve. Explaining and Understanding International Relations. Oxford: Oxford University Press, 1990.
KOELBLE, Thomas. Ten years after: Robert Putnam and making democracy work in the post-colony or why mainstream political science cannot understand either democracy or culture. Politikon, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 203–218, 2003. DOI: 10.1080/0258934032000147309.
PONS, Silvio. The rise and fall of Eurocommunism. In LEFFLER, Melvyn P.; WESTAD, Odd Arne. The Cambridge History of the Cold War: Volume III: Endings. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
PUTNAM, Robert. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.
RIALL, Lucy. The Italian Risorgimento: state, society and national unification. Nova York: Routledge, 2004.
Eduardo Brasil de Mattos é Mestrando em Relações Internacionais no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGRI-UERJ). Pesquisador do Laboratório de Estudos de Mídia, Cultura e Relações Internacionais (LEMCRI). Bacharel em Relações Internacionais pela UFRJ (2017-2022). Foi Assistente de Pesquisa do Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS-FGV) entre 2021 e 2023.