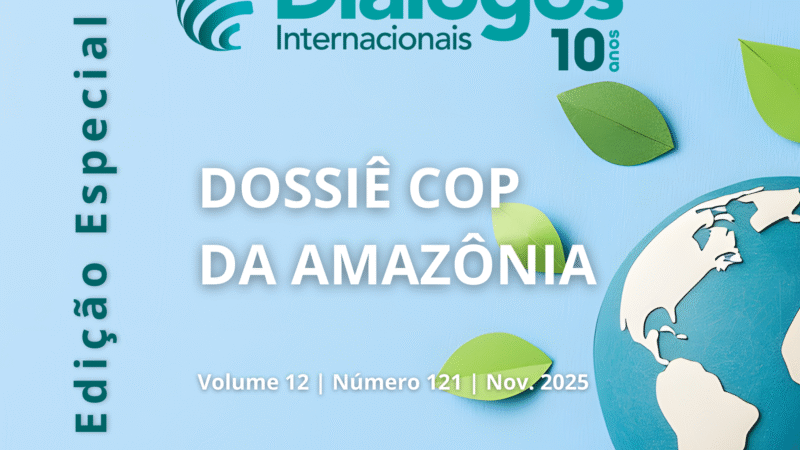Resenha: Filme “Pixote: A Lei do Mais Fraco”, a infância destruída e a marginalização social
Volume 12 | Número 117 | Abr. 2025
Por Lucas Almeida dos Santos
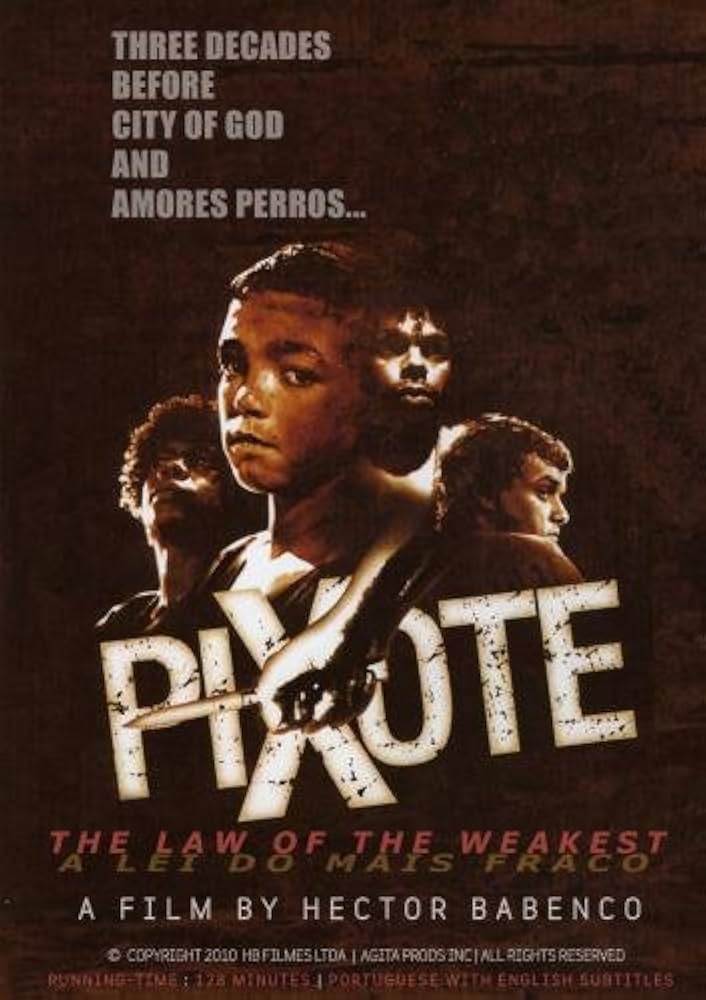
PIXOTE: a lei do mais fraco. Direção: Hector Babenco. Produção: Hector Babenco, Paulo Francini e José Pinto. Brasil: Embrafilme, 1980.
Hector Babenco, em Pixote: A Lei do Mais Fraco (1981), constrói um retrato cruel e impactante da infância marginalizada no Brasil, explorando as experiências de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Protagonizado por Fernando Ramos da Silva, o filme acompanha a jornada de Pixote, um jovem em situação de rua que, após ser brutalizado em um reformatório, adentra um ciclo de violência e exclusão social nas ruas de São Paulo. A obra recebeu aclamação internacional e foi destacada pela Associação de Críticos de Nova York como um dos melhores filmes estrangeiros de sua época. No contexto da ditadura militar brasileira, a marginalização social emerge como tema central, desafiando o papel das instituições estatais na perpetuação da desigualdade e do abandono.
O filme reflete um Brasil autoritário e desigual, marcado pela censura, repressão política e falta de políticas públicas eficazes. No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, a urbanização acelerada e a omissão governamental intensificaram a marginalização das populações periféricas. Teresa Caldeira, em “Cidade de Muros: Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo” (2000), aponta que a expansão urbana desordenada e a criminalização da pobreza criaram “zonas de exclusão”, onde o Estado se faz ausente. Babenco representa essa realidade na brutalidade enfrentada pelos jovens no sistema correcional, onde, em vez de proteção e reabilitação, encontram apenas violência e desesperança.
Pensar em marginalização social é essencial para compreender a dinâmica do filme. Frantz Fanon, em “Os Condenados da Terra” (1961), descreve como certos grupos são sistematicamente afastados da vida social e econômica, perpetuando ciclos de pobreza e exclusão. Pierre Bourdieu, com “A Distinção: Crítica Social do Julgamento” (1979), também analisa as estruturas invisíveis que mantêm a hierarquia social e a discriminação cultural. Em Pixote, a marginalização se manifesta na desumanização dos jovens pobres, que são constantemente submetidos à violência, tanto nas instituições públicas quanto nas ruas. No entanto, o filme sugere que esses indivíduos estão condenados a uma existência sem saída, negligenciando as formas de resistência e luta que muitos grupos marginalizados demonstram na vida real.
A abordagem cinematográfica de Babenco mistura realismo social com um estilo quase documental, conferindo autenticidade e intensificando o impacto emocional do filme. A fotografia crua e o ritmo dinâmico reforçam a brutalidade das experiências dos protagonistas, criando um senso de urgência e desespero. Pixote se torna um símbolo da infância perdida, representando uma geração sem perspectivas. Outros personagens, como Lilica, um jovem homossexual que busca aceitação, e Dito, que sonha com uma vida estável, ilustram diferentes facetas da exclusão social, evidenciando a intersecção entre marginalidade, violência e identidades vulneráveis.
Apesar da força de sua crítica, alguns estudiosos apontam que o filme pode oferecer uma visão exageradamente sombria da sociedade brasileira. Randal Johnson, na sua análise feita através de “Brazilian Cinema” (1996), sugere que Babenco retrata o Brasil como irreparavelmente corrupto e violento, sem apresentar possibilidades de mudança ou resistência. Essa abordagem, embora eficaz para chocar e sensibilizar o público, pode reforçar estereótipos sobre a nação e desconsiderar os esforços de transformação social e as redes de apoio que existem dentro das comunidades periféricas.
Além disso, a trajetória de Pixote e seus companheiros também reflete um dilema universal sobre a infância roubada e a formação da identidade em contextos de extrema privação. O filme evidencia como a ausência de referências familiares e sociais estruturadas empurra esses jovens para a marginalidade, criando um ciclo de violência difícil de ser rompido. A figura de Pixote, que deveria representar ingenuidade e possibilidade de crescimento, se torna um símbolo da brutalidade do meio em que está inserido. Dessa forma, Babenco não apenas denuncia a realidade da exclusão social, mas também questiona como a sociedade naturaliza essa violência ao não oferecer alternativas concretas para esses jovens.
Outro aspecto relevante da obra é sua recepção crítica e impacto internacional. A aclamação que o filme recebeu no exterior demonstra como a marginalização e a exclusão infantil não são apenas problemas brasileiros, mas questões globais que ressoam em diferentes contextos sociais. Entretanto, essa recepção também levanta questionamentos sobre a forma como o Brasil é representado para o público estrangeiro. A intensa abordagem da miséria e da violência pode reforçar uma visão estereotipada do país como um lugar de caos e falta de perspectivas. Nesse sentido, enquanto “Pixote” cumpre seu papel de denúncia social, ele também se insere em um debate mais amplo sobre a construção de narrativas cinematográficas e sua influência na percepção externa de uma nação.
Em suma, Pixote: A Lei do Mais Fraco é um filme de forte teor crítico, que expõe as falhas gritantes das políticas públicas e a negligência estatal em relação às populações marginalizadas. Sua narrativa realista e impactante escancara a realidade das crianças abandonadas pelo sistema, forçadas a uma existência à margem da sociedade. No entanto, a abordagem extrema da obra pode levar a uma interpretação fatalista, ignorando nuances da resistência social. O filme desafia o espectador a refletir sobre a responsabilidade coletiva na marginalização e reafirma o poder do cinema como instrumento de crítica social e meio de visibilização de realidades frequentemente negligenciadas.
REFERÊNCIAS
BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. Tradução de L. C. L. L.Mendes. 1. ed. São Paulo: Edusp, 1989.
CALDEIRA, Teresa P. R. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo.2. ed. São Paulo: Edusp, 2000.
FANON, Frantz. Os condenados da terra. 1. ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1970.
GOMES, Ana Paula; LOBÃO, Fátima. Marginalidade e exclusão social: reflexões teóricas.Revista Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 95-118, jan./jun. 2008.
JOHNSON, Randal. Brazilian Cinema. New York: Columbia University Press, 1996.
Lucas Almeida dos Santos é estudante da Graduação em Defesa e Gestão Estratégica Internacional e membro do Núcleo de Artes, Interculturalidade e Política Internacional (NAIPI-IRID).