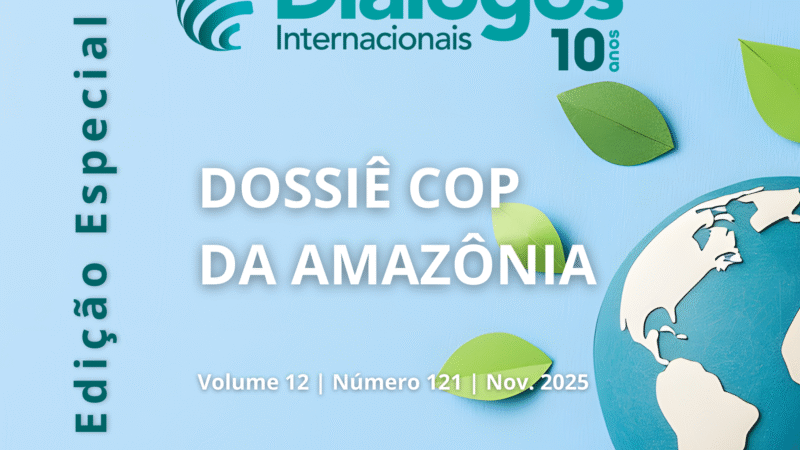Resenha: Filme “Túmulo dos Vagalumes “, o simbolismo dos vagalumes e a fragilidade da vida
Volume 12 | Número 117 | Abr. 2025
Por Laís Simões Lima

O TÚMULO dos vagalumes. Direção: Isao Takahata. Produção: Toru Hara. Japão: Toho, 1988.
A produção cinematográfica “Túmulo dos Vagalumes” (Hotaru no Haka) de 1988 é de origem japonesa e apresenta uma animação dramática ambientada durante a Segunda Guerra Mundial, dirigida por Isao Takahata e produzida pelo Studio Ghibli, a trama baseia-se no romance semi-biográfico de Akiyuki Nosaka. Ambientado na cidade de Kobe durante os meses finais da guerra, o filme narra a história de dois irmãos, Seita e Setsuko, que lutam para sobreviver após perderem a mãe em um bombardeio e serem abandonados pela sociedade. Em meio à fome e ao desamparo, os irmãos precisam lidar com a realidade brutal da guerra com apenas a companhia um do outro e alguns poucos elementos simbólicos que os remetem à memória de tempos mais felizes.
Através da animação e do desenvolvimento de uma narrativa sensível, Túmulo dos Vagalumes tece uma crítica sutil à desumanização causada pela guerra, evidenciando a efemeridade e vulnerabilidade da vida. Nesse sentido, o trabalho propõe-se a analisar esses aspectos, utilizando a teoria da semiótica (Nicolau, 2010) para explorar como a obra comunica a transitoriedade da existência humana e o impacto do conflito na infância.
Segundo Marcos Nicolau (2010) a semiótica, definida como a ciência dos signos e dos processos de significação, apresenta a forma como os fenômenos culturais e naturais constroem sentido. Com base nessa ideia, a semiótica examina como sistemas de signos, incluindo linguagens visuais, musicais, fotográficas e cinematográficas, estruturam e comunicam significados na sociedade. Para este trabalho foi escolhida a concepção triádica de Charles Sanders Peirce, na qual Nicolau (2010) destaca o signo como uma estrutura de três elementos: o objeto (aquilo que é representado), o signo (a representação em si) e o intérprete (o sujeito que decodifica o significado). Essa abordagem triádica permite uma análise detalhada dos símbolos, que, no caso do cinema, revelam como imagens e símbolos, como os vagalumes e a lata de doces em Túmulo dos Vagalumes, criam camadas de significado que enriquecem a compreensão do enredo e das mensagens implícitas, tornando a semiótica uma ferramenta interessante para a análise desta obra.
De acordo com o texto de Douglas Pastrello (2021) lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945 encerrou a Segunda Guerra Mundial, mas gerou impactos profundos e duradouros sobre o Japão, tanto em termos de destruição física quanto em implicações psicológicas e sociais. A justificativa para os bombardeios, como Sidnei Munhoz (2015) aponta, baseava-se na ideia de que a destruição rápida e maciça evitaria uma invasão ao Japão, poupando milhões de vidas japonesas e estadunidenses, uma narrativa que também promove a ideia da “bomba salvadora”. A destruição, por mais intensa que fosse, teria como efeito final uma resolução menos custosa em vidas para ambos os lados. (Sidnei Munhoz, 2015). Em “Túmulo dos Vagalumes”, de Isao Takahata, essa noção de benevolência e justificativa para o uso de bombas contrasta com a realidade do sofrimento civil japonês, especialmente o das crianças, que se tornam vítimas invisíveis do conflito e sofrem as consequências dos bombardeios convencionais e da destruição generalizada, que não se limita aos alvos militares.
Por outro lado, Gar Alperovitz (1985) transparece uma perspectiva crítica ao questionar a real necessidade do uso das bombas atômicas. Segundo o autor, os próprios líderes militares estadunidenses sugeriam que o Japão poderia ter sido derrotado sem uma invasão e sem o uso de armas nucleares, haja visto que a intensificação dos bombardeios convencionais já enfraqueceriam o país. Alperovitz (1985) argumenta que a escolha pela bomba foi, ao menos em parte, influenciada pelo desejo de afirmar poder perante a União Soviética, sugerindo que os bombardeios nucleares tinham um viés geopolítico e estratégico, que transcende o simples desejo de encerrar o conflito de maneira rápida. A escolha arbitrária dos alvos, é outra questão importante. Hiroshima e Nagasaki não eram centros militares prioritários, mas alvos escolhidos de maneira estratégica para medir o poder destrutivo das bombas (Pastrello, 2021). Essa arbitrariedade torna-se ainda mais impactante quando se observa que cidades como Nagasaki, com um perfil rural e montanhoso, tiveram menos baixas, mesmo com a bomba mais potente. O que leva a sugestão de que o objetivo principal era uma demonstração de força, não apenas uma medida de finalização rápida do conflito.
A narrativa do filme é enriquecida por elementos simbólicos que esboçam a precariedade da vida humana frente à violência destrutiva em momentos como a guerra, por exemplo. No entanto, esses signos vão além da tragédia pessoal dos personagens e servem como metáforas para o impacto psicológico e físico da guerra sobre os civis, especialmente as crianças, que são os mais vulneráveis e impactados psicologicamente.
Em uma leitura semiótica, os vagalumes representam a efemeridade da vida, especialmente em tempos de guerra. Esses pequenos insetos, que acendem e apagam brevemente como fagulhas na escuridão, são metáforas para a própria existência humana dos protagonistas, que enfrentam uma jornada breve e frágil marcada pela luz e pelo desaparecimento repentino. São duas crianças que mal começaram a viver a vida e já terão suas “luzes apagadas”. A condição de Seita e Setsuko, cujas vidas são igualmente breves, como a dos vagalumes, reforçam essa transitoriedade. Além disso, há uma cena em que Setsuko coleta vagalumes na tentativa de iluminar seu abrigo, esse momento reflete a tentativa de recriar um ambiente seguro e reconfortante em meio ao caos, porém a morte rápida dos insetos logo alerta um lembrete simbólico da realidade inescapável.
Outro elemento semiótico relevante é a lata de doces que Setsuko carrega com ela. Percebe-se, sutilmente, um certo apego emocional às lembranças que os doces trazem e que vinculam-se a uma saudade do passado, de um tempo em que a lata de doces estava cheia, onde a pequena Setsuko guarda lembranças a respeito de um tempo seguro e feliz que não existe mais. Quando a lata é finalmente vazia, o espectador sente o fim de uma infância interrompida, simbolizando a deterioração não apenas das posses materiais, mas da própria inocência que Setsuko conhecia. A lata torna-se, assim, um signo de memória e de esperança perdida, um microcosmo da destruição que a guerra provoca, tanto no ambiente físico quanto nas conexões emocionais dos indivíduos.
A escolha de Takahata em ambientar o filme no contexto histórico dos bombardeios sobre o Japão é uma decisão semiótica que reforça o simbolismo da guerra e da destruição. Os bombardeios não representam apenas a violência física, mas atuam como um indicador da devastação moral e social que aflige o país. O fogo, que consome cidades e corpos, torna-se um símbolo visível da guerra que destrói vidas. Como signo visual, ele evidencia a natureza aterrorizante do conflito e apoia-se como contraponto à luz suave dos vagalumes, transmitindo uma representação dualista da luz: enquanto o fogo dos bombardeios é destrutivo, a luz dos vagalumes é efêmera, mas benigna. Esse contraste ressalta a fragilidade da vida em tempos de guerra e a beleza que persiste, mesmo que brevemente, na escuridão.
Há semiótica na escolha da faixa-etária dos protagonistas também. Seita e Setsuko personificam a vulnerabilidade da juventude frente às catástrofes que ultrapassam sua compreensão. Eles são representações típicas das vítimas civis da guerra, especialmente das crianças, que frequentemente sofrem as consequências das decisões dos adultos. Por ser a irmã mais nova, a obra trata a perspectiva de Setsuko com muita delicadeza e, talvez, seja esse o ponto crucial que o filme enfatiza com o intuito de sensibilizar quem está acompanhando a trama. Com Setsuko, vemos o conflito pela ótica da inocência, onde a violência e a destruição são incompreensíveis, e qualquer ato de bondade, como compartilhar comida ou criar um abrigo temporário, torna-se uma resistência simbólica contra o desespero.
Em síntese, Túmulo dos Vagalumes é uma obra que destrincha a semiótica visual e narrativa por sua sensibilidade, utilizando de elementos como os vagalumes, a lata de doces e os bombardeios para comunicar temas de brevidade e resiliência. Através de signos visuais e contextuais, o filme constrói um retrato pungente do impacto da guerra, abordando questões sobre a natureza da perda, a fugacidade da vida e o desejo humano de criar significado, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Dessa forma, os irmãos simbolizam a resistência emocional, mesmo que breve e frágil, que contrasta com a dureza e a frieza da guerra. É uma obra que, ao usar a semiótica para representar a guerra e a infância, revela a beleza e a tristeza de uma história profundamente humana e atemporal.
Referências
ALPEROVITZ, Gar. Did we have to drop the bomb?. Washington Post, 1985
MUNHOZ, Sidnei. Os EUA e a conclusão da II Guerra Mundial: os impasses concernentes à Guerra do Pacífico e ao extremo oriente. Huellas de Estados Unidos, n. 9, p.5-23, 2015.
NICOLAU, Marcos et al. Comunicação e Semiótica: visão geral e introdutória à Semiótica de Peirce. Revista eletrônica Temática, Paraíba, n. 8, p. 1-25, 2010.
PASTRELLO, Douglas. OS BOMBARDEIOS ATÔMICOS DE 1945 E A HISTORIOGRAFIA EM DISPUTA. MUNDOS EM MOVIMENTO: Extremo Oriente, Rio de Janeiro, p. 71-77, 2021.
Laís Simões Lima é estudante da Graduação em Defesa e Gestão Estratégica Internacional e membro do Núcleo de Artes, Interculturalidade e Política Internacional (NAIPI-IRID).