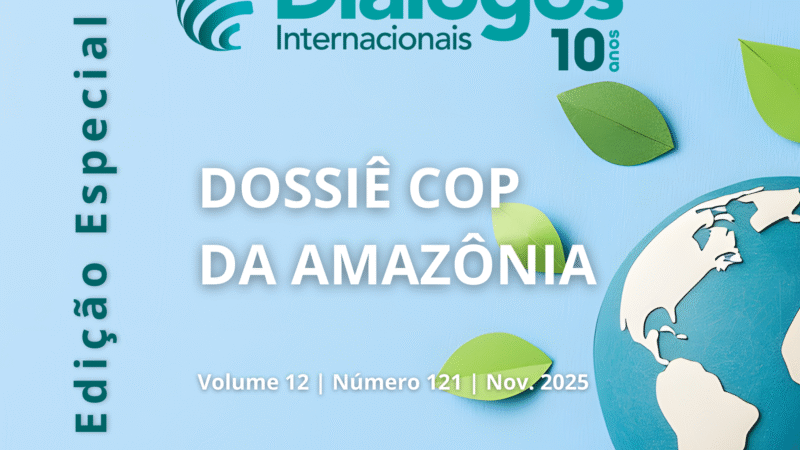Para além do campo: o futebol como instrumento de reconciliação e reconstrução nacional no pós-genocídio Ruandês
Volume 12 | Número 117 | Abr. 2025
Por Maria Luiza Rodrigues Mendes de Souza

Introdução
Em abril de 1994, o genocídio de Ruanda exemplificava não apenas a divisão histórica existente no país, mas a dificuldade que muitos Estados africanos possuíam para se imaginarem como unidades nacionais coesas. Entre as rupturas sociais que culminaram com a Guerra Civil do País das Colinas e a necessidade de regressar à normalidade pós-conflito, questiona-se – a partir de um Estudo de Caso: “Qual o papel do futebol como instrumento de resistência e reconstrução do imaginário nacional de narrativa comum no processo conciliatório do pós-guerra civil de Ruanda; enquanto – contraditoriamente, como “jogo social” – compunha interesses hegemônicos?”.
Como hipótese para esse questionamento, entende-se o futebol como simbologia fundamental na expansão de políticas sociais no pós-guerra e auxiliador eficaz na retomada da convivência pacífica entre etnias em território ruandês. Sob a possibilidade de compreender tais indagações, objetiva-se analisar não apenas os impactos causados pela instrumentalização do futebol como política pública, como também a funcionalidade desse elemento como via reconciliatória e reconstrutiva em Ruanda, no período que sucede o genocídio ruandês, entre 1994 e 2003; ao conceituar a instrumentalização desse esporte como jogo social e ferramenta de poder político na proposta de desenvolvimento social e na ressignificação de conflitos, que perpassa pela “diplomacia da bola”. Isso pode ser percebido preponderantemente na partida classificatória entre Ruanda e Gana, para a Copa das Nações Africanas de 2003. Essa pesquisa se justifica pelo entendimento de que o futebol é uma tradição inventada na conceituação das nações e pela possibilidade de diferentes instrumentos participarem na mobilização desconstrutiva de conflitos prolongados.
O futebol como tradição nacional inventada e imaginada:
O Estado, como unidade conceitual, permanece historicamente como um dos focos das teorias de Relações Internacionais. Dentro dos limites desses estudos, tais entidades são abordadas e inseridas de modos distintos nesse sistema. Para alguns, o entendimento do Estado-nação perpassa como algo intrínseco à própria constituição do “internacional”, ou seja, sua unidade basilar – como as Teorias Realistas de Carr e Morgenthau (COX, 1981). Para outros, essa entidade é colocada como parte constituinte, mas não isolada ou única desse “jogo internacional”. Sob distintas perspectivas acerca dos Estados-Nações, é possível compreender que as tradições – como elementos inventados, socialmente imaginados e construídos sob a influência de configurações e relações globais complexas – são postas como nacionais e propostas, muitas vezes, estatalmente, a partir do contato com aquilo que lhe é externo.
Dessa maneira, a lógica da inserção não simultânea entre Estados e nações permite compreender que essa situação — para além de uma leitura política exclusivamente hierárquica e redundante imposta pelos “mandatários” — se manifesta por meio de uma legitimidade emocional ancorada em um passado recente e marcada por diversos instrumentos, como o futebol, que auxiliam na construção de um “nós”, apesar das rupturas sociais e dos relações de desigualdade. Diante do entendimento de que o tempo é uma característica necessária para o surgimento da concepção de nação, muitos Estados africanos que se formaram no século XX ainda carregam raízes complexas de autodeterminação que provém majoritariamente da “Partilha da África”, amplificada pela Conferência de Berlim. Assim, apesar das contradições de formação de Estados ainda dependentes em muitos níveis e da necessidade de desenvolvimento a partir de uma concepção de nação, muitas vezes, incoerente com as entidades étnicas-territoriais existentes, essas unidades político-territoriais ainda buscam se legitimar através de uma lealdade primordial a si mesma como uma comunidade humana, que geralmente entendemos como nacionalismo.
As nações são imaginadas e dependem de um sentido comunitário comum que decorre de uma temporalidade não apenas histórica, mas presente. Em diferentes Estados, a capacidade de auto-imaginação se expressa de maneiras distintas na criação de símbolos eficazes para promover o sentimento de pertencimento, e das tradições inventadas e formalmente institucionalizadas, para além do âmbito político – que se estende, muitas vezes, à parametrização de ações institucionalizadas legalmente –, mas que ressoam também na constituição social e cultural de uma comunidade. Nesse sentido, entender-se como “nós” e como “nação” parte de uma consciência coletiva vista nos detalhes que circulam o internacional, como: os jogos sociais, o esporte e o futebol. Tal explicação permite entender como diferentes sociedades possuem dificuldades e aspectos distintos ao se imaginar como nação, bem como o caso de Ruanda.
A República de Ruanda localiza-se na África Central e possui uma história marcada por conflitos entre grupos étnicos, acentuado por um colonialismo cruel. Com a expansão do imperialismo europeu, os belgas dominaram o território ruandês e basearam sua política colonialista, principalmente após à Primeira Guerra Mundial, na consolidação e ampliação de uma estrutura “pré-existente” de rivalidade étnica, apoiando um governo minoritário de Tutsis e solidificando as relações sociais, outrora, “fluídas” entre os mesmos e os Hutus. Tal cenário revelou-se ainda mais crítico e dicotômico no pós-guerra de Independência, contra a Bélgica, em 1962, demonstrado pelas maiores heranças coloniais deixadas naquele país: a divisão, a estratificação e a formalização das etnias, além da subsequente instabilidade política.
Através de tal cenário pode-se perceber a dificuldade que o “País das Colinas” possuía ao tentar imaginar-se como um único organismo sociológico que atravessava cronologicamente um tempo vazio e homogêneo e que, como comunidade imaginada, percorria solidamente a história (ANDERSON, 2008); visto que a invenção de suas próprias tradições e juízos sociais foram altamente marcados por políticas de exploração e da percepção de ameaças que colocavam a sociedade ruandesa em uma posição de constante atrito competitivo e estratificado, e que dificultava, assim, a sua própria convicção de unidade social.
O nacionalismo, desse modo, como tradição inventada socialmente, frente a vulnerabilidade política e a mudança comportamental e relacional entre as etnias, lutava para criar em si uma continuidade artificial que rompia com um passado muito recente; encontrando posteriormente no futebol sua capacidade de projeção. Nesse cenário, o desenvolvimento desse esporte em Ruanda foi marcado por uma grande influência política, que o premeditava a seguir os interesses particularistas dos grupos hegemônicos. Essas dinâmicas afetavam diretamente o andamento das atividades esportivas, intensificando a discriminação em treinos e jogos, além de provocar a interrupção de campeonatos — sinais de uma crise social em ebulição e do inevitável envolvimento do esporte nas engrenagens da história ruandesa.
A vulnerabilidade política e a inversão histórica de uma opressão social de uma maioria Hutu para com a minoria Tutsi, dificultou a concepção do que era ser uma única nação, enquanto criava as condições para a formação e a invasão do país, em 1990, por um grupo guerrilheiro, a Frente Patriótica de Ruanda (FPR), que buscava retomar o poder e possibilitar o retorno dos refugiados tutsis. Esse movimento marcou o início da guerra civil ruandesa, que culminaria em um dos maiores conflitos do século XX: o genocídio de Ruanda. Reiterando, ainda, a dificuldade de aplicação e projeção coletiva dessa inovação histórica recente, a “nação”, e um de seus principais fenômenos subsequentes, o “nacionalismo”, seus símbolos e interpretações históricas e que não ocorre de modo simultâneo, muitas vezes, à própria constituição estatal (HOBSBAWM, 1997). Nesse sentido, pode-se afirmar que havia, no país, uma tensão entre a inviabilidade das tradições impostas e o passado moldado por elas — construído sobre a negação de uma cultura marginalizada. Essa dinâmica culmina em uma originalidade histórica, na qual o futebol surge como elemento mediador na constituição de um nacionalismo ruandês, situado entre a possibilidade de transformações estruturais e a esperança de uma futura união desse povo.
A diplomacia do futebol:
A concepção de nação emerge da combinação de estudos interdisciplinares, incorporando abordagens políticas, culturais e sociológicas que permitem uma análise sobre projeção de poder, política nacional, política externa e a diplomacia, enquanto elemento fundamental na escolha entre a guerra ou a paz. Sob as interfaces das dinâmicas internacionais, o futebol se configura como uma ferramenta estratégica para moldar a “marca” internacional de um Estado, atuando em diálogo com a política internacional e na mudança de paradigmas das imagens estatais, onde praticar tal esporte figura-se como mecanismo para atingir objetivos diplomáticos (KWACHUH, 2023)
Esse jogo social, para além da prática desportiva, carrega em si outra face: a de enxergar as dinâmicas da rotina tanto no âmbito nacional quanto internacional, permitindo análises do cenário político sob a influência predominante das ações de atores internacionais; ao sugerir a possível existência de uma “arbitragem” que nutre e supervisiona laços intercomunitários, ao passo que relaciona-se como instrumento de poder social e cultural, influenciado por uma moral coletiva. Nesse viés, tal percepção sugestiona o futebol como estratégia ampla, diplomática e apaziguadora entre povos, de modo que sua projeção sobre as nações assemelha-se a um branding, sustentado por uma certa legitimidade que reforça tradições ao mesmo tempo que constrange certas estruturas; partindo do pressuposto de que a imagem que um país projeta externamente advém de uma concepção interna de ideias nacionais comuns. Esse entendimento é reforçado pela popularização desse jogo, que se consolidou como uma ferramenta capaz de mobilizar massas em disputas — não em campos de batalha, mas em campos quadriláteros rodeados por torcedores atentos (OLIVEIRA, 2015). Nesse contexto, o futebol desempenha um papel único na formação de uma ética social e na fertilização sociocultural por meio de mensagens políticas, muitas vezes sutis, como se observou de forma expressiva entre os séculos XX e XXI.
A comunicação dirigida por essa ferramenta diplomática se relaciona com diversas estratégias políticas utilizadas durante a história, convertendo-o também na proposição de sentimentos nacionalistas. Pode-se observar que as ações e os posicionamentos políticos de uma das grandes figuras da diplomacia brasileira, o Barão de Rio Branco, por exemplo, marcam um certo início da instrumentalização desse esporte como parte da projeção brasileira no internacional e na invenção de tradições nacionais próprias que advém do “imaginar-se” como um povo. Posteriormente, isso foi fundamental para o projeto de firmar o futebol como aliado da construção de uma nação proposta pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, a conquista do primeiro título brasileiro da Copa do Mundo em 1958 – um período marcado pela tentativa desenvolvimentista e de integração nacional –, e, enfim, para um dos momentos de maiores destaques geopolíticos do país, frente a projeção do seu soft power através da diplomacia do futebol, em um empreendimento político capaz de parar conflitos: o amistoso entre a seleção brasileira e a seleção haitiana em 2004.
Nesse cenário, a participação brasileira na Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH), galgou-se do futebol enquanto mecanismo diplomático. Sua demonstração, assim, de que uma certa “cultura de paz” compôs um grupo de valores abrangentes, sob a tentativa de criação de uma coletividade em meio a necessidade de implementação do sentimento de pertencimento, e de reconstrução de um país no pós-guerra civil. Como ferramenta de diplomacia pública, o futebol, ainda, arquiteta-se ciclicamente e influencia as esferas socioculturais, econômicas, políticas e militares. Um caso semelhante de mobilização além das quatro linhas foi a Copa do Mundo de 1990. Em meio à transição da ordem bipolar para um mundo multipolar, a competição articulou uma memória ainda recente sob retrospecto das relações nacionais, marcada simbolicamente pela Queda do Muro de Berlim (1989). Em tal contexto, a Alemanha Ocidental derrotou a Argentina e sagrou-se campeã mundial, dois meses antes de sua unificação definitiva, em setembro daquele ano.
Doravante tais exemplos, pode-se perceber que mesmo com maneiras distintas de lidar-se com as diferenças regionais e internas, as ameaças externas e a busca por um sentimento de pertencimento possibilita para além de uma concepção de união nacional política, mas sociocultural; o futebol é usado para promover a identificação do cidadão com o seu país, além de auxiliar na formação de organismos que coordenam tal atividade (OLIVEIRA, 2015). Sob tais apontamentos, surge a possibilidade de comparação a outra situação estatal que mobilizou o internacional frente a debates como a autodeterminação dos povos, colonialismo, relações históricas de desigualdade e a instrumentalização do futebol como aliado na construção de identidades nacionais e espaços aptos a propor o exercício de rivalidades e conflitos ritualizados, no cerne da consolidação de Estados modernos: o papel conciliatório e reconstrutivo do futebol no pós-genocídio de Ruanda (KISCHINHENYSKY, 2004).
O genocídio ruandês: o ataque fora das quatro linhas.
Após a ação colonial belga — que anteriormente favorecia o “alinhamento” com a minoria tutsi — houve uma mudança na distribuição do poder político em Ruanda, mas não nos pressupostos que sustentavam esse poder. A dicotomia dessa política feita sob linhas étnicas permitiu a formação, a organização e a invasão ao país, em 1990, de um grupo guerrilheiro que lutava para retomar o poder e permitir o retorno dos refugiados tutsis em Ruanda, a Frente Patriótica de Ruanda (FPR), dando início a Guerra Civil do país. Em 1993, o governo vigente, de Juvénal Habyarimana, foi forçado à uma mesa de debate e negociação, as Nações Unidas, ainda, formaram uma missão de paz para assegurar o mantimento do acordo firmado entre as partes, que para a ONU aparentava possuir êxito (EKLUND, 2020).
Em um período onde as atividades do cotidiano transformavam-se frente a possibilidade iminente de um conflito, o Rayon Sports – time mais aclamado do país – se classificou para a African Cup Winners[1], eliminando o Al-Hilal (Sudão) no Estádio Nacional de Amahoro, um mês antes do início do genocídio, no dia 06 de março de 1994. Apesar da classificação, o Rayon não participou do restante da competição por conta do cenário sociopolítico de Ruanda, mas essa partida ainda é lembrada como o último momento anterior ao genocídio que – em comemoração – soldados, políticos e ruandeses comuns, uniram-se e celebraram como uma nação, mesmo que de maneira breve (DIDIER E NZEYIMANA, 2020). Tal acontecimento reitera certo prenúncio da instrumentalização do futebol, frente a percepção de que como construtor de sociabilidades, pode garantir meios de coesão social – mesmo que momentâneos – visto que as vitórias no campo esportivo são tomadas como trunfos de todos (CANETTIERI, 2010).
Entre abril e julho de 1994, o país dividiu-se, deixando Ruanda à beira de um colapso total. Por quase cem dias, rotinas foram suspensas e o país transformou-se num gigantesco campo de morte a céu aberto, que só findou quando a FPR conseguiu o domínio sobre a maior parte territorial do país, deixando cerca de 800.000 mortos por milicianos hutus. Para Tereza Nogueira Pinto, como explícito em seu artigo “Ruanda: entre liberdade e segurança”, a característica mais marcante de tal conflito foi a sua proximidade:
“A característica mais singular, e mais perturbadora, do genocídio ruandês foi ter sido um genocídio de proximidade. Professores mataram alunos, médicos mataram pacientes, padres mataram fiéis, irmãos mataram irmãos” (PINTO, 2011, p.47).
Nesse cenário de atrocidades, tal concepção se contrapõe com uma característica, para muitos, intrínseca ao futebol, sua capacidade de reiterar laços de união mesmo entre aqueles que não se conhecem, explícita através da “salvação” de muito jogadores[2] por torcedores e companheiros de equipe. Entretanto, tais contrastes reafirmam que esse esporte não ficou incólume ao conflito, ressaltando a diversidade dos pressupostos da guerra, para além da política inadequada imposta pelos belgas a partir de 1916 ou das amarras neocoloniais de miséria ou intriga, mas do próprio imaginário ruandês e da construção de uma rivalidade histórica e social que tenderia a causar a derrocada de mais uma nação africana fora de campo.
O imperativo da diplomacia da bola e a reconciliação em Ruanda.
Em 04 de julho de 1994, a FPR conquistou Kigali e o genocídio, formalmente, chegava ao fim. Ruanda encontrava-se devastada: suas ruas e campos acumulavam corpos mutilados, suas infraestruturas básicas estavam destruídas e restavam ruínas não apenas de edifícios, mas da memória que um dia havia sido compartilhada pelos cidadãos. Frente ao caos de um Estado que não mais se enxergava como nação, objetivou-se a reconciliação nacional, a justiça e a redução de desigualdades, sob a lógica de extinguir o divisionismo e a necessidade de equilibrar a reconciliação nacional e a reintegração de vítimas e seus agressores, em uma sociedade que lutava para garantir sua sobrevivência econômica e política (PINTO, 2011).
Diante da necessidade de união, da reconciliação entre etnias e do cultivo da memória das vítimas do genocídio, o futebol – que por muito tempo foi o único ambiente capaz de manter o convívio pacífico àquele povo – foi materializado como política pública de promoção e negociação da paz. Tal situação foi exemplificada na promoção na primeira ação pública realizada coletivamente, cerca de dois meses após o fim do genocídio: uma partida de futebol, entre Kiyovu e o Rayon Sports no Estádio de Kigali. Em 11 de setembro de 1994, milhares de pessoas saíram de seus esconderijos e compareceram ao evento que marcava o início da volta à rotina da vida e do jogo e, que momentaneamente, conseguiu transformar inimigos mortais em torcedores e companheiros de time.
Como um elemento auxiliar na solução de conflitos e na distração dos horrores de um passado recente, o futebol se consolidou como possível via de cura desta nação quebrada. Assim, pode-se considerar que um dos auges do esforço de recuperação de Ruanda foi alcançado em 2003 quando, pela primeira vez, a seleção ruandesa conseguiu se classificar à Copa das Nações Africanas, eliminando a Gana, no mesmo estádio utilizado pelos refugiados como abrigo no período do conflito, em Kigali. A união presente naquele momento, quase uma década do genocídio ruandês, coloca em pauta a possibilidade de restauração da identidade nacional do País das Colinas e o questionamento se ela se expandiria para os rumos políticos do país.
É inegável que, naquela partida, a profunda divisão social, o passado recente de guerra e os interesses antagônicos deram lugar, mesmo que momentâneamente, a uma identidade futebolística comum — um paradoxo entre a ilusão e a realidade, capaz de mobilizar a população. Essa dimensão simbólica ficou evidente no discurso do então presidente, Paul Kagame.
“A alegria de hoje pertence a todos e a cada um; daqueles milhares de cidadãos que estavam presentes no estádio, bem como os outros que não vieram para assistir ao jogo” (HATZFELD, 2005, p.121).
O futebol, desde então, tem sido utilizado não apenas como política de desenvolvimento socioeconômico no país – haja visto seu uso para geração de renda e atração turística –, mas no envolvimento de comunidades na criação de coesão social, no combate ao preconceito e na reabilitação de mulheres e crianças que sofreram perdas, torturas, abusos e mutilações no período do conflito e que atualmente encontram no ambiente esportivo, um lugar seguro para dialogar e se expressar diante de uma sociedade, intrinsecamente, patriarcal. Contudo, a coalizão entre o governo ruandês e a sociedade civil organizada[3], apesar de gerar união e um ideal imaginado coletivamente de recuperação nacional, também traz uma perspectiva da instrumentalização política de um esporte de grande influência social, capaz de representar não apenas um povo, mas também seu governo; sob simbologias que extravasam as quatro linhas e reiteram a utilização de distintas ferramentas no processo de reconciliação e negociação de conflitos (CANETTIERI, 2010).
Conclusão
Sob a lógica de inserção não concomitante de Estado/Nação no sistema internacional, exemplificada em Ruanda; as memórias de um passado recente e hostil, anterior ao próprio genocidio, demonstram como o País das Colinas esbarrou-se na dificuldade de imaginar-se como uma unidade coesa, comum e igualitária. Diante desse cenário, o futebol — enquanto instrumento de construção de sociabilidades — foi mobilizado no pós-guerra como forma de contestar a lógica do divide and rule, anteriormente utilizada para reforçar estruturas hierárquicas rígidamente definidas. Dessa forma, esse esporte reiterou seu papel como contribuinte na reabilitação social e na ressignificação do conflito, atuando de modo enfático em seu processo conciliatório.
Aponta-se, nesse sentido, que esse esporte tem se tornado, nos últimos trinta anos, um fator simbólico na retomada da convivência social em Ruanda e no desenvolvimento do ideário nacional comum, instrumentalizado não apenas pela sociedade civil ruandesa, mas pelo governo de Paul Kagame, presidente de Ruanda desde 2000. Desse modo, cabe-se questionar, ainda, até que ponto essa instrumentalização tem sido constituinte de uma “governamentalidade” que, consequentemente, ao nacionalizar interesses políticos de determinados atores, têm afastado o cenário ruandês de uma democracia real; além da possibilidade de encontrar, nas iniciativas públicas futebolísticas a capacidade de “peacebuilding”. Por fim, dado o exposto, é possível ainda identificar a viabilidade de diferentes atores na construção da paz e igualdade, na mobilização desconstrutiva de conflitos prolongados, a averiguação de novas vias conciliatórias, através de práticas cotidianas, como o futebol.
Referências Bibliográficas:
ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. Tradução de Denise Bottmann.
CANETTIERI, Thiago. A importância do futebol como instrumento de geopolítica internacional. Revista de Geopolítica, Ponta Grossa-Pr, v.1, n. 2, p. 116-128, jun/dez 2010.
COX, Robert W. Forças sociais, Estados e ordens mundiais: além da teoria de Relações Internacionais. OIKOS, Rio de Janeiro-RJ, v. 20, n. 2, p. 10-37, 2021. Tradução de Caio Gontijo.
DIDIER, Shema-Maboko; NZEYIMANA, Celestin. Using sport for unity and reconciliation, development and peace: case of Rwanda. Sport and Olympic-Paralympic Studies Journal, [S.l.], nov. 2020. Disponível em:https://www.researchgate.net/publication/346054825. Acesso em: 23 de nov. 2024.
EKLUND, Nicholas. Reconciliation through football: A study on the role of football in the reconciliation process of Rwanda. Bachelor Degree – Peace and Conflict Studies, Department of Political Science, Lund University. Lund, p.47, 2021.
HATZFELD, Jean. Uma temporada de facões: relatos do genocídio em Ruanda. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. Tradução de Rosa Freire d’Aguiar.
HOBSBAWM, Eric. Introdução: A invenção das tradições. In: HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence (orgs.). A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. (Coleção Pensamento Crítico; v. 55).
KISCHINHEVSKY, Marcelo. Do lábaro que ostentas estrelado — mídia, futebol e identidade. 2004. 225 f. Tese (Doutorado em Comunicação e Cultura) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Comunicação, Rio de Janeiro, 2004.
KWACHUH, Tekang P. Nation branding, public and sports diplomacy in Africa: the case of Rwanda. Anadolu University, Department of Political Science and International Relations, 2023. Disponível em:https://ssrn.com/abstract=4460282. Acesso em: 23 de nov. 2024.
OLIVEIRA, Eduardo Neves Faria de. As Relações Internacionais e o futebol como diplomacia da paz. Monografia (Graduação) – Universidade de Brasília. Brasília, 2015.
[1] que deu origem à Copa das Confederações Africana (CAF).
[2] como Murangwa Eugene, goleiro do time histórico do Rayon, Tite Rushita e Évergiste Habihirwe.
[3] como a Kimisagara Football for Hope Club (KFFHC- Esperance) e a Football for Hope, Peace and Unity (FHPU).
Maria Luiza Rodrigues Mendes de Souza é graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pesquisadora-bolsista (PIBIC) do Núcleo de Estudos de Geopolítica, Integração Regional e Sistema Mundial (GIS) e integrante do Grupo de Pesquisa OPECDH (Observatório de Política e Economia Contemporâneas e Violações de Direitos Humanos), ambos da UFRJ. Integrante do Laboratório Orti Oricellari de Análise de Conjuntura em Economia Política Internacional, do IRID e do PEPI-IE/UFRJ; e extensionista do Núcleo de Auxílio para Imigrantes e Solicitantes de Refúgio (NAPIES-UFRJ).
O trabalho foi orientado pelo professor Leandro Loureiro Costa.